Bruxas, vilãs, egoístas, histéricas… muitos são os nomes dados às mulheres que, de alguma forma, colocam-se em primeiro lugar e visam o sucesso. Porém, no fim do dia, todas sentem que o melhor desempenho não foi atingido, muitas tarefas estão pendentes e as crianças requerem mais tempo. Essa sensação coletiva é reforçada pelos dados com níveis alarmantes de desigualdade de gênero, dentro e fora do mercado de trabalho.
Em 2011, homens com ensino superior completo no Brasil ganhavam em média R$3.058, enquanto mulheres no mesmo nível de formação recebiam R$1.865, uma diferença salarial de 63,98%, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Nos anos seguintes a taxa caiu, chegando a 44,7% em 2018. Entretanto, o chamado “abismo salarial” segue amplo, principalmente quando se trata da remuneração de mulheres negras.
Dependendo da profissão, um homem branco pode ganhar mais que o dobro de uma mulher negra. De acordo com um levantamento realizado pelo Insper com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2016 e 2018, a maior desigualdade estaria na medicina, visto que mulheres negras formadas em universidades públicas possuem um salário médio de R$6.370,30, enquanto homens brancos com a mesma graduação ganham R$15.055,84.

(Fontes: Estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, Pnad e Caged).
A revista norte-americana Science publicou em 2017 os resultados de uma pesquisa com o público infantil. A proposta foi perguntar para as crianças se uma pessoa especialmente inteligente era de seu sexo ou do oposto. Na faixa etária de cinco anos não foram identificadas diferenças significativas, mas a partir de 6 ou 7 anos, a probabilidade de que meninas acreditassem que outras garotas eram inteligentes caiu.
O que acontece com essas crianças que começam a ter mais dificuldade em relacionar inteligência às mulheres? Segundo a historiadora, pesquisadora, editora-chefe do projeto “Mulheres Viajantes” (@mulheres.viajantes), especialista em Fundamentos da Arte e da Cultura, Thaís Carneiro, a resposta não tem nada a ver com uma ideia “natural”.
“Isso não é oriundo de uma concepção entre bem e mal, essa ideia de que os homens são ruins e odeiam as mulheres. Existem vários interesses em disputa”, começa a historiadora.
Contextos históricos e leis: a imposição do espaço doméstico
É importante pontuar que o repúdio à independência feminina não se estabeleceu apenas como um senso comum. Na legislação brasileira, por exemplo, só houve tratamento igualitário entre homens e mulheres na Constituição de 1988.
O artigo 242 da lei de número 3.071, presente no código civil de 1916, afirmava que a mulher não poderia, sem o consentimento do marido: realizar qualquer tipo de transação comercial relacionada a um imóvel; aceitar ou negar herança; exercer profissão; aceitar mandato, ou seja, receber poderes para administrar ou praticar atos em nome de alguém e quaisquer outras responsabilidades que não fossem previamente aprovadas pelo homem com quem casou.
“Na Grécia Antiga, por exemplo, vemos mulheres com mais autonomia do que no Brasil em 1930. Óbvio que existem contextos, precisamos definir isso, mas pensar o que faz com que as mulheres sejam tidas como dependentes na legislação está relacionado ao que é ser mulher e o que é ser homem, o que a gente espera desses dois personagens e o que gera um problema nesse jogo”, afirma Carneiro.

(Fontes: Estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, Pnad, Datafolha, Plan Internacional Brasil, Procuradoria da Mulher do Senado Federal).
“Existe uma construção social, em diversos contextos e lugares do mundo, em que a infantilização da mulher se estabelece como uma forma de exercício de poder e domínio“, enfatiza Flávia Paniz, doutoranda em sociologia, especialista em estudos de gênero e oriente médio, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
“Ocorre também dentro da sociologia um estudo sobre a relação dos corpos das mulheres e uma animalização no contexto da colonização. É vaca, burra, galinha, porca… Tem uma construção histórica do poder social sob os animais, afinal, a vida animal é controlada, para alimentação, lazer, experiências médicas… E esse mesmo léxico e estrutura faz isso com as mulheres desde a infância. Elas precisam ser educadas para operar e fazer com que a sociedade funcione em suas diversas instâncias“.
Bruxas, Eva e uma geração de histéricas
Em seu livro “Calibã e a Bruxa”, Silvia Federici aborda o período de caça às bruxas na Europa para relacionar o surgimento do capitalismo e a desigualdade de gênero, durante a etapa de urbanização que se estabeleceu na idade média.
A proposta da filósofa não é afirmar que a misoginia nasceu durante a inquisição, afinal, a história, como Carneiro pontua, não é linear. Cada recorte de espaço e tempo precisa ser analisado por uma ótica específica.
Contudo, a autora fala sobre como a misoginia e racismo se solidificaram neste período e acabaram influenciando as demais sociedades sob o novo regime capitalista que se estabeleceu durante a decadência dos feudos. Para isso, a autora trabalha a figura da bruxa e Calibã, personagem de Shakespeare descrito como um homem negro escravizado, filho da bruxa Sycorax.
Federici afirma que qualquer tipo de trabalho remunerado realizado por mulheres é desvalorizado. Conforme o temor à independência feminina se fortalecia, com a inquisição, as medidas de punição endureciam e um novo medo se consolidou: o das bruxas.

“Nessas comunidades não existia médico, e quando essa figura realmente surgiu, ele não estava em todos os lugares. A bruxa, então, era na verdade o que chamavam de curandeira, uma mulher que dialogava com as forças da natureza e não necessariamente realizava oferendas, mas ocupava esse espaço de cura e era considerada independente, até essa possibilidade de autonomia deixar de existir“, relata a historiadora.
“Começou a ocorrer uma disputa, porque esse julgamento de bruxa dependia muito do depoimento de alguém. Por exemplo, você possui uma indisposição com a sua vizinha e mencionava o nome dela. Existiu realmente esse ‘transe coletivo’”, explica Carneiro.
A pesquisadora afirma que essa herança católica, que gerou o temor às bruxas, também carrega um erro de tradução na passagem em que Eva morde a maçã proibida, resultando na expulsão, junto de Adão, do paraíso.
“Eva, na verdade, teria provado da árvore do conhecimento, e esse conhecimento é perturbador, esse conhecimento liberta. É interessante para perceber que foi negado o acesso aos estudos para as mulheres, visto que mesmo aquelas que pertenciam a uma elite só puderam aprender a ler e escrever no século XX. Um dos castigos de Eva é o sofrimento do parto, ali você já tem uma conexão do que é o ‘ser mulher’, é necessariamente ser mãe e ocupar esse espaço, o doméstico”.
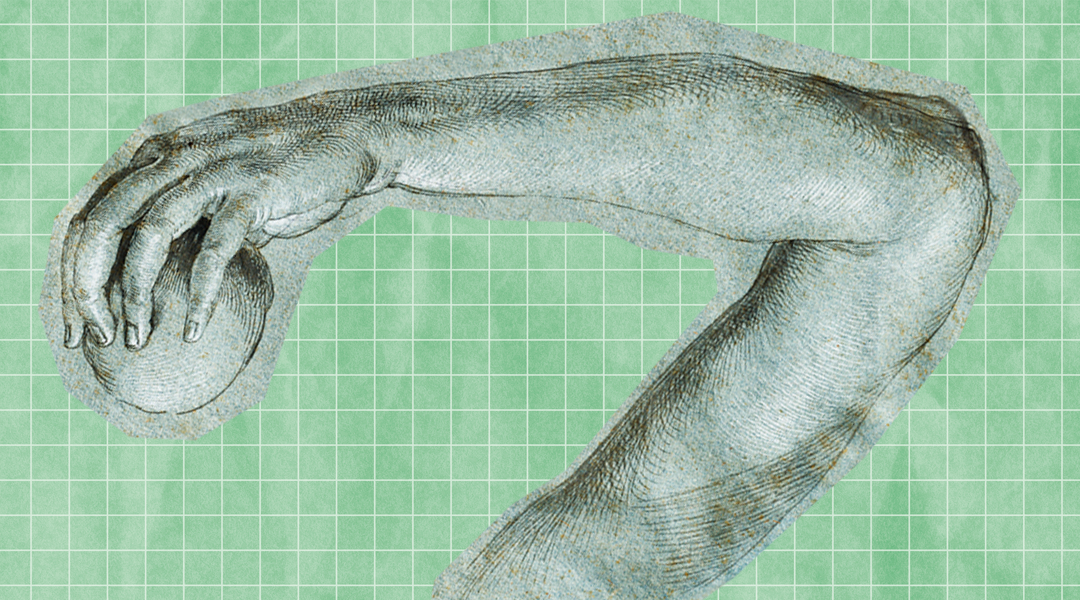
“As mulheres não são sequer autorizadas de sair das suas casas no Brasil Colônia e Império, já que o espaço da vida pública é o espaço do conflito, da disputa. Existe um ditado neste período, de que as mulheres só saiam de casa em dois momentos, para o casamento e a morte”, diz a especialista em arte e cultura do século XIX.
Entretanto, não eram todas as mulheres brasileiras que poderiam obedecer à norma vigente de ficar em casa. “As mulheres pobres, negras, sempre tiveram que trabalhar fora, mas essas mulheres tinham uma carga de trabalho dobrada e eram consideradas inferiores dentro dessa sociedade”.
Carneiro pontua que no final do século, em meio ao nascimento da psicanálise, ocorreu um ápice no número de mulheres diagnosticadas com histeria, por conta de uma interpretação errônea do que seria o quadro psicológico.
O nome da doença vem do grego hystera, que significa “matriz”, ou seja, onde se gera e cria, levando a uma relação direta com o útero. Hipócrates, médico da Grécia Antiga, acreditava que a doença era exclusivamente de mulheres por surgir devido a uma disfunção neste órgão.
Durante a inquisição, um dos argumentos para o reconhecimento de bruxas seria a identificação de comportamentos histéricos. Confusão mental, múltipla personalidade, apatia em relação ao mundo exterior e “ataques de nervos” seriam alguns dos sintomas citados pelo senso comum.

“Já haviam discursos recorrentes de que os homens eram pragmáticos, assertivos, racionais e as mulheres seriam passionais, descontroladas, por conta do ciclo menstrual – não porque você deixa uma mulher presa durante 40 ou 50 anos”, pontua.
“Essa doença condenou uma série de mulheres no Brasil e no mundo ao sanatório, para os hospícios de mulheres. Nesses lugares estavam todas que fugiam da regra, então se você não queria se casar ou ter filhos, se quisesse trabalhar fora, ter uma vida pública, política, se você demonstrasse desejo sexual…”, completa a historiadora.
O início de uma mudança nesse quadro foi um processo longo. No Brasil, um período decisivo se deu durante a década de 1920, quando surgiu uma movimentação feminista mais volumosa em território nacional e debate sobre o voto. Somente entre as décadas de 1950 e 1960 houve uma entrada considerável de mulheres dentro do mercado de trabalho.
“Entretanto, a participação das mulheres por muito tempo foi considerada como algo ‘acessório’, por exemplo, o médico é homem e a mulher enfermeira, o patrão e a sua secretária. Atualmente, essa dicotomia foi rompida, mas ainda está presente dentro de um imaginário bastante machista e faz parte da construção do que é a dinâmica de ser mulher dentro do mercado de trabalho”, reflete Paniz.
“Existe toda uma estrutura que faz com que a mulher se questione o tempo inteiro, ela é interrompida o tempo inteiro. Já vi estudos que mostram que mulheres que passaram a usar nomes de seus colegas homens em e-mails passaram a receber respostas mais eficazes, educadas e com menos questionamentos. E só a ideia de ‘mercado de trabalho’ já traz um referencial de quais mulheres a gente está falando, porque por mais que as coisas estejam mudando, o mercado que absorve muitas mulheres negras é a informalidade.”, afirma a socióloga.
Boa parte das mulheres ainda não consegue ingressar no mercado formal
Quem confirma a fala de Paniz é a também socióloga e diretora geral da ONG Nova Mulher, Marcia Regina Victoriano, que percebe isso em seu cotidiano de auxílio às mulheres da Vila Nova Cachoeirinha, distrito da periferia da Zona Norte da cidade de São Paulo.
Segundo as informações reunidas pela organização sem fins lucrativos, a região possui indicadores de gênero característicos de alta vulnerabilidade social: mais de 35% das mulheres são chefes de família, desempregadas, sem renda ou com trabalhos informais. Além disso, há elevado número de casos de violência doméstica, subnotificados.
Victoriano afirma que boa parte das mulheres que participam das atividades da ONG querem gerar renda por conta própria. Não se trata de uma valorização do empreendedorismo, mas sim uma alternativa diante da impossibilidade de ingressar no mercado formal.
“Há flexibilidade de horário, para poder cuidar dos filhos, da casa, e obviamente, a mulher acaba sobrecarregada nessa rotina. Algumas mulheres que não têm filhos buscam vagas, mas acabam sendo prejudicadas por questões como nível de escolaridade e falta de acesso à educação”.
A socióloga também analisa que, embora hoje em dia já existam diversos cursos onlines, até mesmo gratuitos, as mulheres ainda precisam lidar com uma série de dificuldades. “Elas não têm plano de dados móveis, privacidade para fazer esse curso – as crianças estão em casa”.
“Algumas conseguem até mesmo abrir o próprio negócio e alcançar uma clientela boa, mas outras acabam tendo dificuldade em conciliar com as tarefas domésticas, porque se ela não tem como dividir as tarefas da casa – e isso para todas as mulheres trabalhadoras – ela não vai conseguir atuar. As mulheres sempre trabalharam, trabalho doméstico é trabalho, mas não remunerado”.
Marcia Regina Victoriano
“Ocorre também esse labirinto de vidro que nós mesmas nos colocamos, nós mesmas acabamos recusando, aquela coisa ‘acho melhor desistir, não vou dar conta de ser uma chefe, uma encarregada, terei que agir igual um homem para ser aceita’. Por isso hoje em dia se fala tanto sobre o papel dessas que chegam lá de trazer outras para ocupar esses espaços também. É importante reconhecer que esses desafios estão ali para que possamos encontrar o caminho de transcender”, conclui.
O que é esse teto de vidro?
Um desses obstáculos é o fenômeno do impostor, termo cunhado em 1978 pelas pesquisadoras Pauline Rose Clance e Suzanne Imes para nomear um fenômeno da mente comum entre mulheres, que devido a uma série de questões, históricas, familiares e sociais, questionam seu valor, principalmente quando se trata do mercado de trabalho.
“Apesar de ser uma autossabotagem, trata-se de uma falta de reconhecimento de si. Isso vem de lá de trás, quando não foram qualificadas de acordo, como mereciam ser, e isso pela própria cultura, condição de vida. Existem vários fatores que influenciam, mas o sentimento de não pertencer independe do bom desempenho. ‘É sorte’, ‘estava no lugar certo, na hora certa ela’”, explica Elaine Di Sarno, psicóloga com especialização em Avaliação Psicológica e Neuropsicológica, Terapia Cognitivo Comportamental, pesquisadora e colaboradora do PROJESQ (Projeto Esquizofrenia) do IPq-HC-FMUSP.

“A síndrome da impostora pode vir da infância, das crenças de inferioridade e baixa autoestima. Mas, também pode ser do presente, do momento que a pessoa está passando, como por exemplo, um luto. A diferença é que a pessoa sempre sofre muito, tenta compensar a pseudo falta de capacidade fazendo mais esforço e acaba tendo problemas físicos, como gastrite, tremores, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos”, explica.
“É ruim não se enxergar no lugar que ocupa, você não acredita que merece aquilo, então fica sempre com a sensação de que está devendo alguma coisa, devendo um favor para estar ali quando, na verdade, foi a sua capacidade que te colocou no cargo”, conclui a psicóloga.
É preciso reconhecer os sintomas, fazer terapia, tratar a ansiedade generalizada causada pela síndrome. Entretanto, a questão chave está na compreensão de que esses sentimentos latentes de incapacidade são uma criação de um longo sistema que torna inevitável não se sentir uma impostora.

